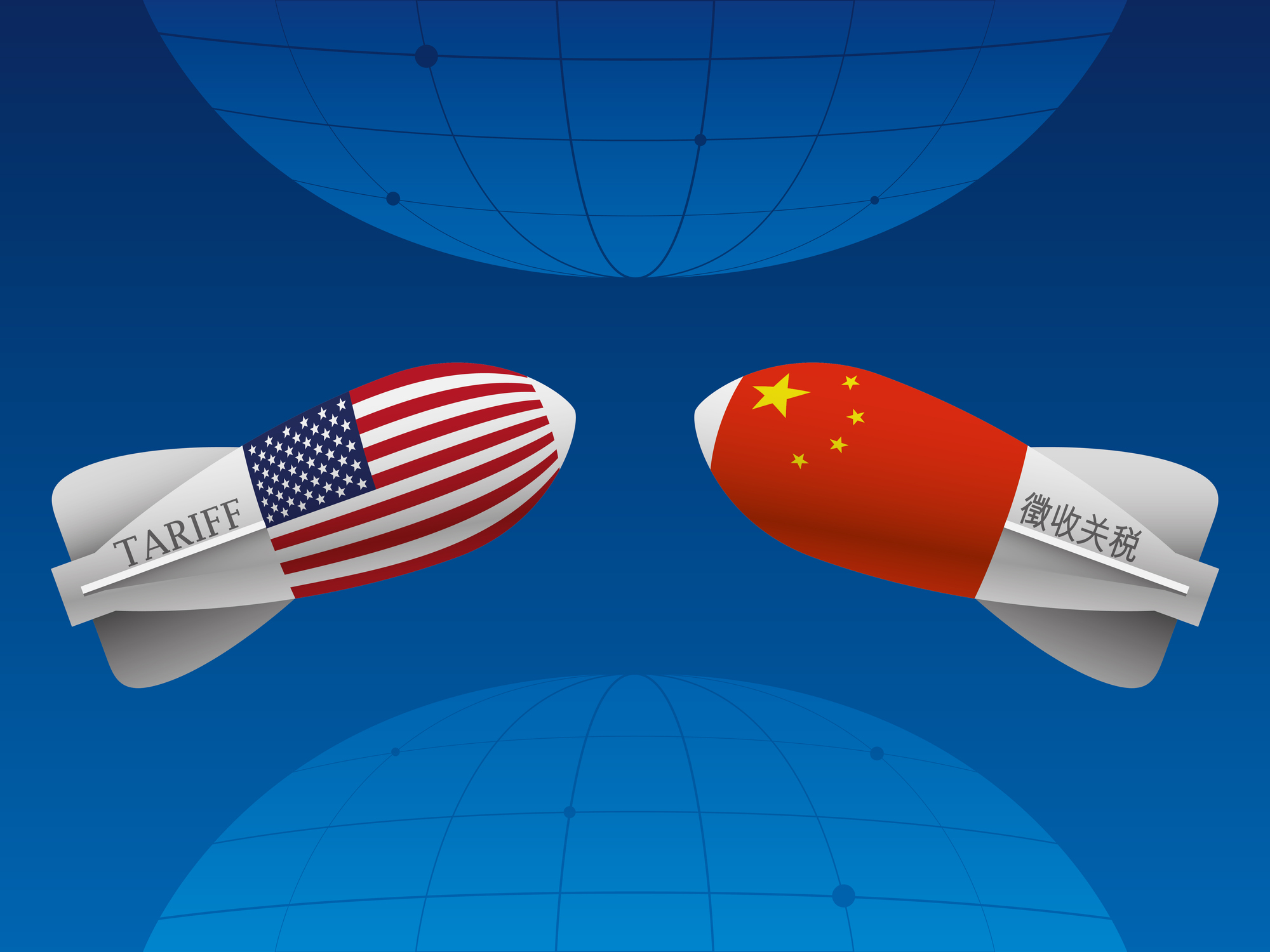Com um clima de guerra cultural e de insegurança instalado, o resvalar para o iliberalismo e para o autoritarismo está em marcha. Resta saber o que vai ficar da democracia tal como a conhecíamos.
1. Talvez os ocidentais — sobretudo os que se vêem, a si próprios, como liberais ou progressistas — pudessem perceber melhor o que está a ocorrer no Ocidente se observassem atentamente os fenómenos sociais e políticos em curso nas sociedades muçulmanas. Os valores seculares (e também, de alguma forma, liberais), que estavam aí em ascensão até aos anos 1960/1970, foram amplamente revertidos pela vaga islamista, ou seja, do “Islão político”. Nos últimos anos, a transformação da Turquia com Recep Tayyip Erdogan exemplifica esse rumo dos acontecimentos. Contraria a ideia ocidental de progresso e de crescente secularização da humanidade. Um aspecto maior dessa transformação é a adesão dos jovens ao islamismo. Mostra a direcção da dinâmica social. Em média, o eleitorado do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), o partido Recep Tayyip Erdogan, é um eleitorado mais jovem do que o eleitorado do secular Partido Republicano do Povo (CHP), herdeiro de Mustafa Kemal Atatürk. Ser islamista — que, grosso modo, é o equivalente a ser um radical de direita ou extrema-direita nas sociedades ocidentais — é algo que atrai muitos jovens de ambos os sexos em contexto muçulmano. As razões são complexas, mas, por exemplo, o comportamento de uma jovem que passa a cobrir a cabeça com um véu pode ser motivado por um acto de rebeldia juvenil face a uma mãe / família / sociedade onde isso tinha sido banido.
2. No Ocidente, a partir dos anos 1960, valores e causas que vinham das margens, de uma esquerda alternativa à hegemonia ideológica dos partidos comunistas ao estilo soviético, ganharam terreno político e visibilidade social (grosso modo, na mesma altura em que os islamistas começavam a reverter o secularismo liberal no Islão). Feministas, ambientalistas, sexualidades alternativas (gays, lésbicas e transsexuais), minorias étnicas e/ou religiosas entraram em força na agenda social e política de todos os países ocidentais. As suas causas afastaram-se, gradualmente, do proletariado e da lógica marxista clássica da luta de classes. Hoje são, em grande parte, o mainstream, social e político. Em muitos aspectos, alteraram radicalmente o sentido usual da moral e dos bons costumes. Este enorme sucesso trouxe novos padrões morais e de bom comportamento social. Fundamentalmente estão hoje já enraizados na população com escolarização mais elevada, sobretudo quando a sua formação teve predominância nas ciências sociais e humanidades. (Aí essas ideias operaram uma enorme transformação na forma de fazer teoria e nas temáticas estudadas, que passaram a incluir muitas das novas “causas”). Os media usualmente considerados “de referência”, ou seja, vistos como exemplos de bom jornalismo, são um outro agente crucial do processo de enraizamento dos valores pós-1960. Não é por acaso que são um alvo preferido dos que se lhes opõem no actual ambiente de guerra cultural.
3. “É proibido proibir” (“Il est interdit d’interdire!”) foi um dos slogans mais icónicos do Maio de 68. Captou particularmente bem o espírito de contestação à ordem social e política estabelecida e à moral e bons costumes (conservadores), tal como normalmente eram entendidos na época. Mas, como já notado, as causas dessa época e aquilo que era visto como uma transgressão nos anos 1960 em geral — e no Maio de 68 em particular — hoje são, em grande parte, comportamentos normais na sociedade e na política. Uma das consequências menos percebidas dessa transformação, nas suas mais profundas implicações, é que isso retira a essas ideias/causas o apelo da contestação, na sociedade e na política. Transformou-as, paradoxalmente, na moralidade e bons costumes de muitos dos mais velhos, na população mais urbana e com mais escolarização, retirando apelo aos mais jovens. Assim, o(a) jovem que hoje se afirme a favor da sexualidade fora do casamento, da emancipação feminina, da defesa do ambiente, dos direitos das minorias, etc. não transgride nada. Na realidade, apenas adere aos valores estabelecidos como bons — pelo menos nos já referidos meios urbanos e na classe média com mais educação. Vejamos melhor a dinâmica sociológico-política instalada.
4. Meio século depois, nas sociedades ocidentais, os jovens rebeldes dos anos 1960 são hoje sexagenários ou septuagenários. Mantêm uma (auto)imagem de rebeldia de progressismo e de defesa das boas causas dos mais fracos e excluídos. Todavia, como já notado, para os mais novos, como os actuais jovens millennials (ou geração Y), esses são já os valores da sociedade estabelecida em que nasceram. Não permitem actos de rebeldia e contestação para se demarcaram dos adultos das gerações anteriores. Assim, os sexagenários ou septuagenários que estiveram na origem do actual padrão moral e político usualmente aceite, por paradoxal que possa parecer, estão hoje mais próximos da imagem de guardiães do passado, ou seja, de conservadores, do que imaginam. Ironicamente, estão hoje numa situação similar à dos que suplantaram na função de guardiães da moralidade da era pré-1960. Como resultado dessa transformação, quem parece estar a captar / manipular o sentimento de rebeldia é outro movimento que veio também das margens da sociedade e do sistema político: a alt-right. Tal como os islamistas conseguiram reverter a questão geracional a seu favor no Islão, e transformar o tradicional em radical, incorporando o sentimento contestatário, um processo algo similar parece estar em curso no Ocidente com a direita radical.
5. Nas sociedades ocidentais e em outras que lhes são culturalmente próximas, a maior transgressão das normas morais, sociais e políticas estabelecidas é hoje é feita por indivíduos que se apresentam como anti-sistema e contestatários radicais. Numa lógica de (extrema)direita prosseguem a sua própria versão do “É proibido proibir” e da “normalidade” de transgredir — o sexismo, a homofobia, a xenofobia ou a islamofobia, são as suas transgressões favoritas. Donald Trump elogia a masculinidade viril de um político republicano do Montana com uma piada jocosa sobre agressão a um jornalista. Jair Bolsonaro usa similares técnicas de choque e transgressão nos seus frequentes ataques verbais a feministas e gays. Quanto a Rodrigo Duterte, o actual Presidente das Filipinas, cultiva um radicalismo ainda maior na linguagem e na transgressão de códigos de conduta moral. Dizer e/ou fazer coisas que transgridem a sensibilidade moral e política herdada dos anos 1960, vistas como politicamente incorrectas, parece ser a nova fórmula de sucesso que mobiliza a contestação e as massas.
6. As ideias filosófico-políticas (e técnicas) que serviram para atacar o status quo social e político nos anos 1960 estão agora a ser apropriadas e replicadas pela alt-right e outros movimentos similares. A plasticidade, o radicalismo e as contradições do pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche — que já entusiasmou fascistas (Benito Mussolini) e nazis (Adolf Hitler), bem com a esquerda intelectual e política do Maio de 68 Michel Foucault, Jaques Derrida, etc.) — são um bom guia para perceber o radicalismo instalado nas sociedades democráticas e as suas contradições. Ao contrário do que acontecia no passado do século XX, a imagem de “revolucionário(a)”, de contestatário(a), ou de alguém irreverente está a afastar-se, cada vez mais, das feministas, ambientalistas, sexualidades alternativas (gays, lésbicas e transsexuais), ou da defesa das minorias étnicas e/ou religiosas. Esse é, ironicamente, o preço do sucesso das suas ideias. À medida que se transformaram nas ideias políticas e moralidade do establishment, tornaram-se, também, o rosto de um sistema que aos mais descontentes apetece atacar e transgredir, seja qual for o motivo. Ironicamente, às vezes até contra os seus próprios interesses económicos ou políticos.
7. Em sociedades onde se cultivou, durante décadas, a transformação e a desconstrução de valores e regras sociais — originalmente com proveniência da esquerda radical e das margens do sistema —, vive-se uma nova vaga que mimetiza essa lógica — oriunda igualmente das margens, mas agora da direita radical. (Não tem a sofisticação intelectual e política da esquerda radical, sendo, nesse aspecto, bastante grosseira e rudimentar.) Ao mesmo tempo, nas democracias liberais, um dos pilares do sistema moral e de valores erigido no pós-anos 1960, os media tradicionais, perdeu a hegemonia que detinha sobre a formação da opinião pública. Hoje a esfera pública é, cada vez mais, dominada pela Internet e redes socais, com as virtudes e problemas que daí decorrem. São o novo espaço público de contestação e radicalismo por excelência, com o predomínio do emocional sobre o racional, do instantâneo sobre o comprovadamente factual e profundo. O novo terreno do “É proibido proibir!”, agora numa lógica quase antitética da original. Com um clima de guerra cultural e de insegurança instalado, o resvalar para o iliberalismo e para o autoritarismo está em marcha. Resta saber o que vai ficar da democracia tal como a conhecíamos.
© José Pedro Teixeira Fernandes, artigo originalmente publicado no Público, 22/10/2018
© Imagem: José Pedro Teixeira Fernandes